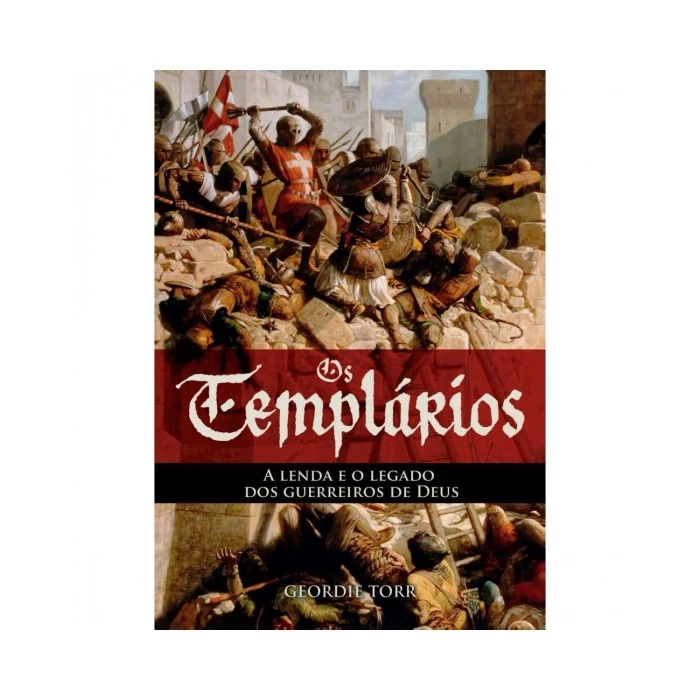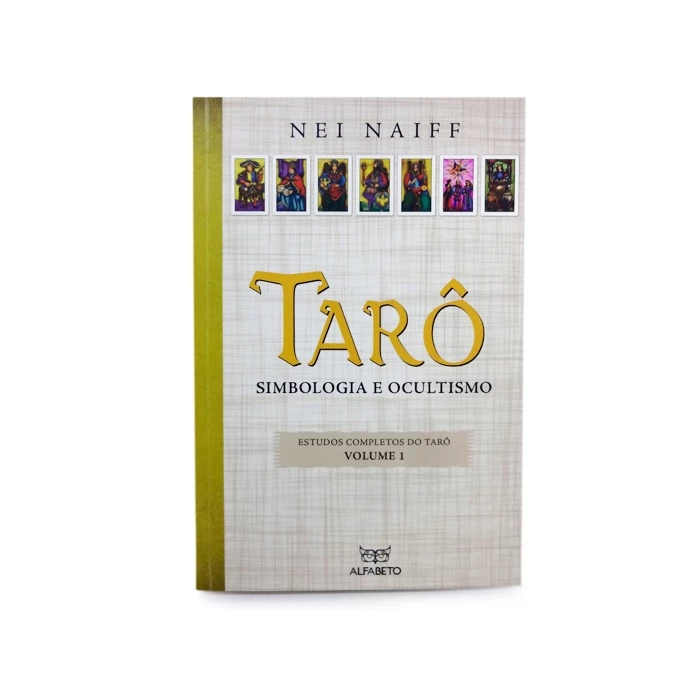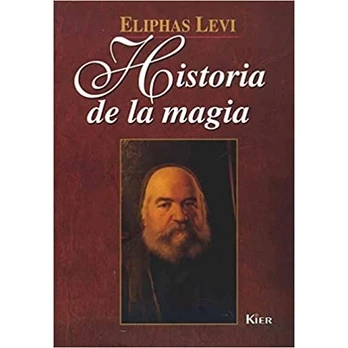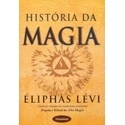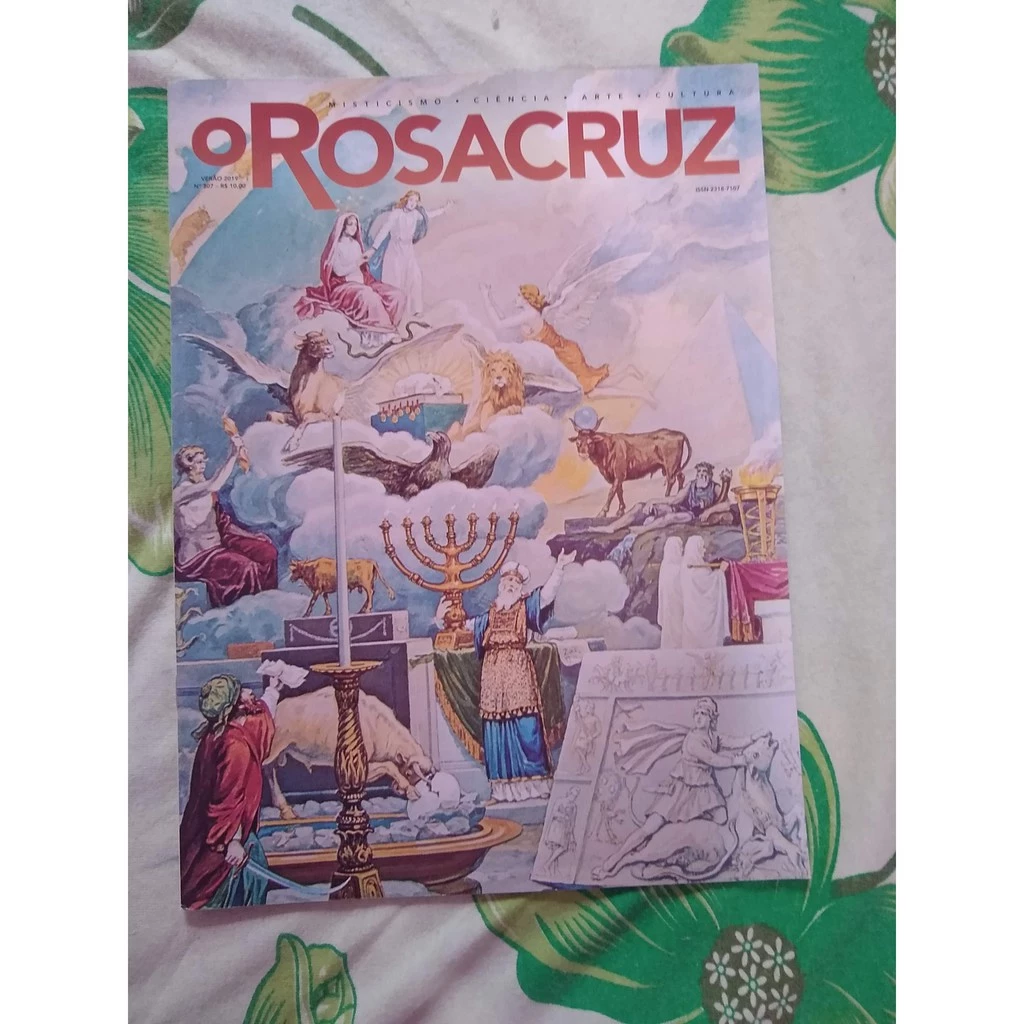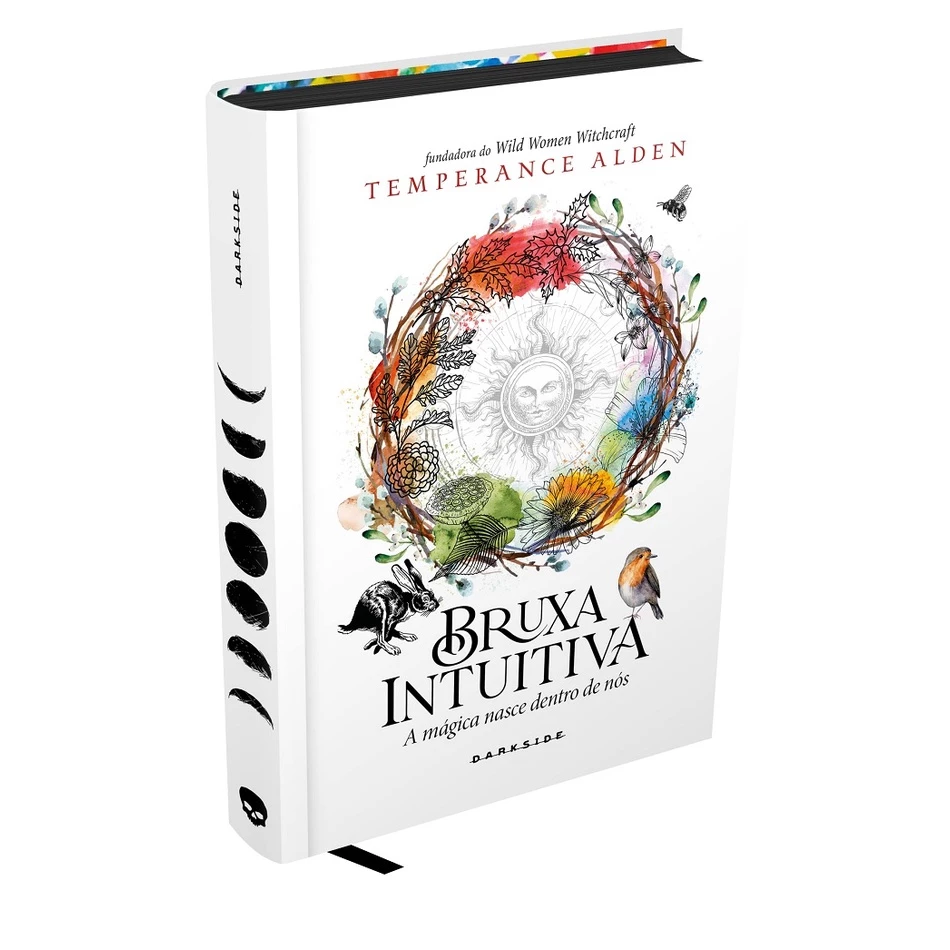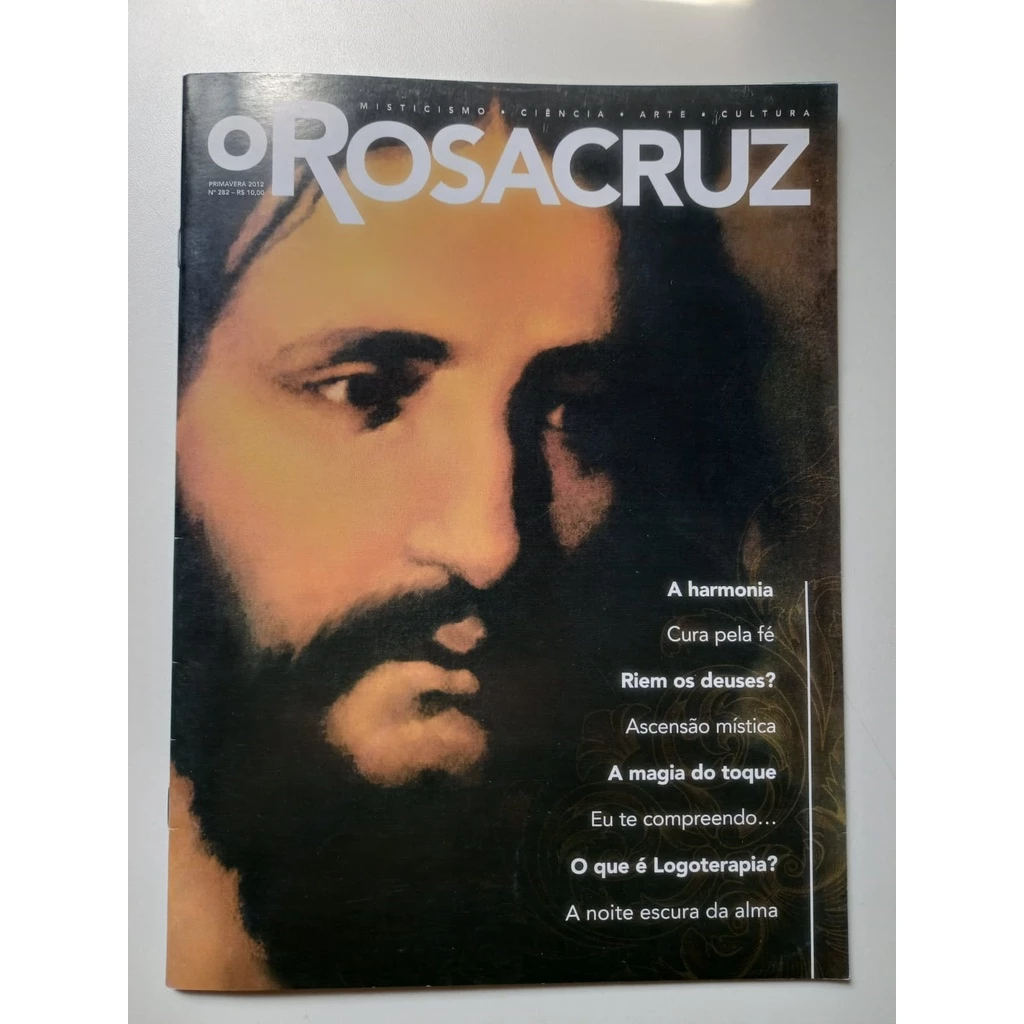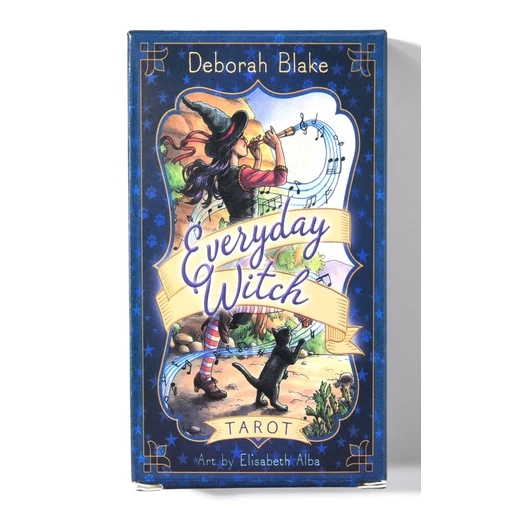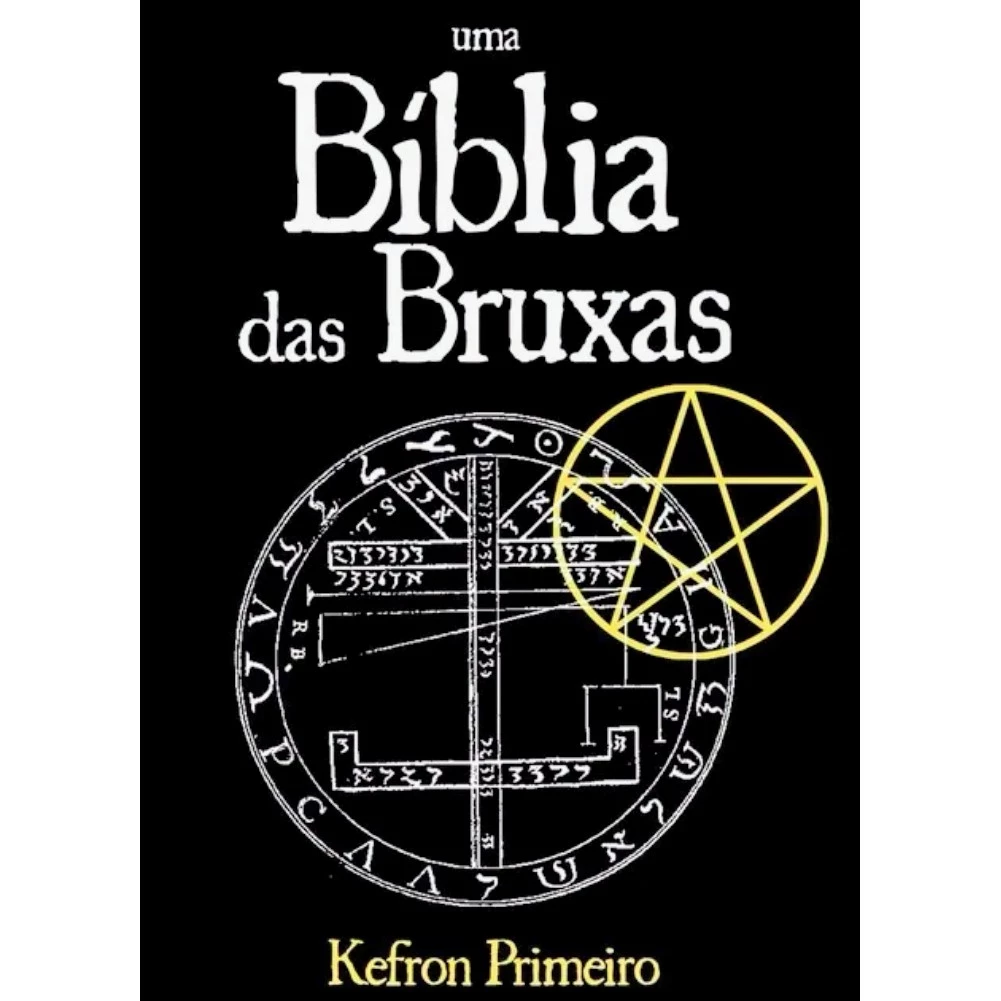Esta postagem é parte de um texto maior sobre essa questão, pensando nos problemas de: o que São os arquétipos? Como surge o conceito? e se faz sentido falar em “ativação de arquétipos” como um pessoal meio coach por aí vem falando? (spoiler: não faz). Na postagem anterior, começamos a tratar do assunto no ramo da teoria literária e discutimos a distinção entre personagens dotados de complexidade e profundidade emocional e aqueles mais rasos, mais típicos e geralmente definidos por características limitadas – o que não é um defeito propriamente, mas um recurso narrativo como qualquer outro, que pode ser bem ou mal usado, mas que não costuma se aplicar fora do domínio da ficção. Esse segundo tipo seria mais próximo de uma noção de figura arquetípica. Agora, para entendermos como surge o conceito na obra de Carl Jung, o ex-discípulo de Freud que se afastou da psicanálise e fundou sua própria disciplina, a psicologia analítica, é interessante falarmos de alguns precursores a essas ideias.
O século XIX foi um grande momento para a ampliação do repertório cultural dos europeus. É falacioso pensar em uma única cultura europeia monolítica (as contribuições culturais islâmicas são testemunha disso), e a era das grandes navegações também trouxe esse contato com outras culturas do mundo inteiro (com efeitos desastrosos para os povos contatados, bom frisar), mas os séculos XVIII e XIX são especiais, a meu ver, por conta de alguns desenvolvimentos. O primeiro departamento de sânscrito numa universidade europeia surge no Collège de France, em Paris, em 1814, como resultado de uma valorização do sânscrito pelos filólogos ao descobrirem as semelhanças entre o idioma e os seus queridinhos da “alta cultura”, que eram o grego e o latim. Daí para a valorização (talvez fetichização) da religião hindu promovida poucas décadas depois pela teosofia, é um pulo também. Ao mesmo tempo, os hieróglifos egípcios estavam sendo decifrados pela primeira vez, ao que logo se seguiu o deciframento do cuneiforme, o que ofereceu acesso a um mundo inteiramente novo e desconhecido. Imaginem o choque dos europeus ao descobrirem um antecessor para a história de Noé e do Dilúvio nas tabuletas de Atrahasys. A disciplina da antropologia também estava nascendo nesse período, e vários pesquisadores se viam envolvidos em acumular registros sobre populações indígenas (ainda que com frequência não fosse com propósitos lá muito nobres). É nesse contexto, para resumirmos tudo de um jeito muito superficial, que nascem as disciplinas de mitologia e religião comparada.

Imagino que todo mundo já tenha tido uma experiência parecida com essa: você está lá estudando diferentes mitologias e esbarra em histórias que parecem muito semelhantes. No caso da narrativa do Dilúvio, o fato de existir uma versão sumério-babilônica, uma versão grega e uma versão hebraica não deve ser muito surpreendente, porque eram culturas em contato no mundo antigo. Mas ver um mito do dilúvio em narrativas ameríndias e chinesas faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Então, quando comparamos certos personagens em narrativas míticas e lendárias, certos padrões emergem.
O que Hermes, Exu, Loki e o Coiote têm em comum? São figuras divinas que costumam aparecer nas histórias como tricksters, malandros ou trapaceiros. Eles frequentemente se encontram em situações nas quais triunfam, não por via da força bruta, mas ao recorrerem a algum ardil. Outras divindades têm como característica a sua sabedoria, como Enki, Atena, Prometeu e Odin, uma sabedoria que pode ou não ter alguma relação com a questão dos ardis (Enki tem um pouco de trickster, e Prometeu idem, ao passo que o ardiloso Odisseu é protegido por Atena). Há divindades paternas e maternas, figuras de guerra, poder e justiça, além de divindades que governam reinos naturais distintos, como desertos, rios e florestas e o reino dos mortos, e não é difícil observar ainda que várias culturas possuem divindades para o Sol e a Lua, como Shamash, Hélios, Re, Anyanwu ou Garaci e Sîn, Khonsu, Selene ou Jaci, além de uma variedade de heróis que se encontram sob sua proteção. O rei e semideus Gilgamesh é devoto de Shamash; Eneias, refugiado da guerra de Troia e fundador de Roma, é filho e protegido de Vênus; o guerreiro Arjuna é discípulo de Krishna. E assim por diante.
Ao encontrarem pela primeira vez essa abundância de material de origens distintas, uma reação esperada é a de postular que esses nomes seriam manifestações de um princípio maior. O quanto essa atitude é correta… bem, aí já são outros quinhentos. Mas é uma atitude comum e fácil de entender de onde vem, ainda mais num contexto colonialista. Quando você olha o que seriam, supostamente, duas ou mais manifestações locais de um princípio maior e então identifica esse princípio, há, com certeza, uma sensação de superioridade aí – parabéns, você, com sua lógica superior, conseguiu enxergar o que aqueles ignorantes não conseguiram. E é claramente essa a mentalidade dos europeus do período. Hoje é difícil de justificar, mas não é difícil entender.
Assim, tem pelo menos dois nomes aqui que são dignos de nota para o desenvolvimento de algo como um protoconceito de figuras arquetípicas: Max Müller e Sir James Frazer.
Müller (1823 – 1900) foi um filólogo alemão especialista em sânscrito que desfrutou de alguma popularidade e prestígio, mas acabou sendo perdendo sua relevância e teve muitas de suas ideias mais audaciosas refutadas ainda em vida. Como resume Angus Nicholls, ele postula uma hipótese de formação dos mitos com base na linguagem. Diz Nicholls:
Ele especula que os primeiros dialetos “arianos” eram caracterizados por uma série de substantivos gerais e abstratos – tais como “dia”, “noite”, “céu”, “terra” ou “trovão” – que não se referiam a objetos em particular, mas sim a potencialidades gerais de força que entendia-se que agiam sobre o mundo, mesmo que nenhum sujeito definitivo pudesse ser identificado como gerador dessas forças. Já que em grego e sânscrito antigos, foram atribuídos gêneros a esses substantivos gerais e abstratos, “era simplesmente impossível falar em manhã ou tarde, primavera e inverno, sem dar a essas concepções algo como um caráter individual, ativo, sexual e, por fim, pessoal”.
É daí que emerge o mito, segundo Müller. Por exemplo, temos a raiz em sânscrito dyú (do proto-indoeuropeu dyews), com o sentido de “brilhar”, “iluminar”, “reluzir”, e que teria as mesmas origens que as palavras deva em sânscrito, deus em latim e deity em inglês. Essa raiz, de gênero gramaticalmente masculino, teria resultado no nome divino Dyaus, um deus celestial masculino na religião hindu, porque ele ilumina os céus. Ele seria, assim, nesse papel de um deus pai celestial, um equivalente ao deus grego conhecido como Zeus ou Júpiter (djous + patēr). Mas Müller não para por aí e essa formação de mitologias não seria, para ele, uma coisa legal, bonita ou inspiradora, mas sim uma “doença da linguagem”, “a sombra obscura que a linguagem lança sobre o pensamento”. E ele vai além e postula que todas as mitologias seriam derivadas desse erro original cometido pelos “arianos” e depois se degenerado ainda mais.
É, dá para ver o quanto esse conceito é problemático. E aí, para Müller, toda mitologia teria como origem algum tipo de mito solar. Se arquétipo significa uma marca primeira (arkhé túpos), então seria possível identificar nesse proposto mito solar um arquétipo para toda mitologia… não fosse o fato de que Müller estava enganado… mas, enfim, não é este o foco do nosso textinho.

Apesar disso, ideias muito parecidas vão aparecer em momentos variados do século XIX. Essa noção equivocada da origem “ariana”, proto-indoeuropeia, de toda sabedoria (ou sandice) antiga pode ser observada na teosofia, e algo como uma mitologia solar emerge em alguns rituais da Golden Dawn, ainda que sem ser com essa abrangência toda – um exemplo sendo o célebre Ritual Menor do Hexagrama, que eu já comentei no nosso texto sobre as correspondências do tarô. Numa breve fórmula de seis versos, o pessoal da GD conseguiu misturar a fórmula crística INRI, as correspondências astrológicas do Sefer Yetzirah, o mito da morte e ressurreição de Osíris e a fórmula IAO no contexto de um único ritual de teor solar, em que as figuras divinas de Cristo e Osíris são amarradas arquetipicamente ao conceito de um deus que morre e renasce, o que, por sua vez, é associado ao Sol, que morre e renasce todos os dias – no mais, trata-se de um ritual da sefirá de Tiffereth, que a GD associa ao Sol.
A preocupação com figuras solares e deuses que morrem e renascem aparece, por sua vez, na obra de Sir James Frazer (1854 – 1941), o outro dos nomes do século XIX que eu propus comentarmos aqui. Frazer foi o autor do polêmico e influente O Ramo de Ouro, cuja publicação original se deu em 1890. Assim como Müller, o nome de Frazer precisa ser invocado sempre com luvas e outras medidas higiênicas, porque muitas de suas ideias eram basicamente o esperado de um estudioso nascido no coração de uma cultura imperialista.
Embora tenha reunido em sua obra uma vasta quantidade de informações, entre mitos, narrativas, crenças e práticas mágicas de culturas diversas separadas pelo tempo e pelo espaço, Frazer peca por não dar às culturas o devido respeito (por exemplo, como se lê no capítulo sobre magia simpática, ele diz que a magia deriva de erros de pensamento) e pela inevitável descontextualização e superficialidade que se insinuam em sua obra quando se reúne tanto material de origens tão díspares sem nunca ter feito trabalho de campo. Outra crítica comum é a de que ele parte com uma conclusão definida a priori e então ignora ou altera as evidências quando elas não batem com o que ele concluiu. Apesar desses problemas, que já estavam sendo reconhecidos pela antropologia nas primeiras décadas do século XX, Frazer causou um impacto monstruoso no imaginário europeu, e não foram poucas as obras literárias que beberam dessa fonte – The Waste Land, do poeta T. S. Eliot, sendo talvez o caso mais famoso. Para uma análise profunda dos equívocos de Frazer e como eles podem ser úteis pelo que revelam do método do autor, recomendo este artigo de Victor Kumar, “To walk alongside: Myth, magic, and mind in The Golden Bough” (link aqui).
O que Frazer postula é a ideia de que, por trás de todas as religiões e mitologias, haveria um conceito primordial do matrimônio de um deus-rei solar e uma deusa da terra. A fim de garantir a fertilidade das lavouras, esse rei, que nada mais era que uma divindade encarnada, seria sacrificado à época da colheita, reencarnando com o retorno da primavera. Por meio desse sacrifício ritualístico (que se torna um rito simbólico), o rei seria capaz de manter a ordem cósmica e a continuidade da vida. O exemplo ao que Frazer se prende, que é de fato o mote de toda a obra, é o mito de Nemi, a dos sacerdotes conhecidos como rex Nemoriensis, o rei do bosque, devotos da deusa Diana que teriam supostamente um sistema de sucessão baseado na morte ritualística do antecessor pelo novo sacerdote.
Ao desenvolver mais uma tese de algum mito central e universal, acredito que seja possível observar onde Frazer se situa na história de uma teoria nascente de arquétipos. E, de fato, ao passarmos pelo Ramo de Ouro, uma dúzia de figuras aparentemente primordiais se insinuam: além do rei solar que morre e retorna e da mãe terra, do mote do sacrifício e dos ciclos das estações, temos o papel importante do mago, os espíritos arbóreos, o fogo, os deuses animalescos da vegetação, o bode expiatório, a ascensão aos céus e descida ao submundo, e assim por diante. Com o tanto de exemplos elencados por Frazer e sua análise do que seriam conceitos universais, estava livre o caminho para se sistematizar uma noção de arquétipos… e isso nos leva enfim a um dos admiradores da obra de Frazer, o suíço Carl Jung.
Quando Jung, que nasce em 1875, inicia a sua carreira aos 25 anos, tendo se mudado para Zurique e começado a trabalhar num hospital psiquiátrico, já havia aí um ambiente propício para esse tipo de estudo. Sua dissertação sai em 1903, intitulada Sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos e nela o editor das suas obras reunidas comenta encontrar o germe de alguns de seus conceitos posteriores sobre arquétipos, mas é muito mais tarde, em 1933, que Jung redige os ensaios em que dá corpo e sistematiza a questão. Esses textos constituem a parte I do volume 9 das suas obras, que eu consultei aqui na tradução inglesa de R. F. C. Hull, The Collected Works of C. G. Jung – Part I: Archetypes and the Collective Unconscious, da Princeton University Press (tem uma edição em português, com o título Arquétipos e o inconsciente coletivo, Vol. 9/1, que saiu pela editora Vozes, mas eu não consegui comprar em tempo de fazer estes textos). Jung continua escrevendo sobre o assunto ao longo de toda a sua vida e suas pesquisas depois foram continuadas por sua discípula, Marie Louise von Franz. Nos estudos de literatura, uma junguiana famosa foi a inglesa Maud Bodkin, que já em 1934 publica o seu Archetypal Patterns in Poetry (disponível online na íntegra no Internet Archive), no qual aplica esses conceitos para análise de poesia, incluindo tragédias gregas, a obra de Coleridge, Dante e Milton. Essa tendência depois seria continuada pelo canadense Northrop Frye, que parte daí (embora afastando-se de Jung posteriormente) para conceber uma teoria dos arquétipos literários em seu A Anatomia da Crítica. Mais sobre esse tipo de crítica literária, chamada de arquetípica, pode ser lido neste artigo aqui do site Literariness.

É interessante que Jung tenha desenvolvido e exposto o conceito dos arquétipos em conjunto com o de inconsciente coletivo. Ele explica a relação entre as duas coisas já no começo do seu ensaio, comentando como ele distingue o inconsciente coletivo do inconsciente pessoal: o pessoal deriva das experiências do indivíduo, enquanto o coletivo trata de “conteúdos e modos de comportamento” que são “mais ou menos os mesmos em todos os lugares e indivíduos”. É um “substrato psíquico de uma natureza suprapessoal que está presente em todos nós”. E os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos. Simples assim.
Em outro momento, para fornecer provas da existência do inconsciente coletivo, Jung oferece um exemplo bem interessante de um paciente psicótico cujo delírio envolvia observar o “pênis do sol” e o modo como o movimento desse pênis seria a origem do vento. Quatro anos depois, o autor esbarra num livro de Albrecht Dieterich, que descreve um ritual dos Papiros Mágicos Gregos, a Liturgia de Mithras (que já publicamos aqui no site em tradução minha a partir da tradução de Betz), onde aparece a frase enigmática: “Agora o caminho dos deuses visíveis aparecerá num disco de deus, meu pai, e de forma semelhante ao chamado tubo, a origem do vento ministrador”. Logo de cara, Jung reconheceu a semelhança entre as duas coisas – o delírio do psicótico e as instruções das visões do ritual – e postulou que, considerando que seria impossível o paciente ter tido acesso a esse livro, deveria haver uma origem comum, arquetípica, para as duas coisas, situada nesse depósito de conteúdos universais que seria o inconsciente coletivo.
Como explica Jung, o ser humano “primitivo” (sic), dotado de uma necessidade de “assimilar todas as experiências sensoriais em eventos psíquicos interiores”, ao ter contato com esses conteúdos inconscientes, produziria fórmulas conscientes que seriam ensinadas e constituiriam a “sabedoria tribal”. Os conhecimentos esotéricos, mitos e contos de fada seriam, para Jung, derivados desse contato com o arquetípico direto no inconsciente, assim como são os sonhos, num grau mais ingênuo. Não é possível termos acesso ao arquetípico em seu estado puro, no entanto, porque assim que tomamos consciência dele, que o percebemos, ele já não pertence mais (é óbvio) ao domínio do inconsciente. Mas Jung reconhece um grande poder e perigo nos arquétipos e, ao analisar as formas arquetípicas que ele batizou de anima (o lado feminino inconsciente de um sujeito masculino) e a sombra, ele diz:
Ao lidar com a sombra ou anima, não é suficiente apenas conhecer esses conceitos e refletir sobre eles. Tampouco podemos vivenciar seu conteúdo por meio dos sentimentos ou apropriando os sentimentos alheios. De absolutamente nada serve decorar uma lista de arquétipos. Arquétipos são complexos da experiência que chegam a nós como um destino, e seus efeitos são sentidos em nossa vida pessoal. A anima não cruza mais os nossos caminhos como uma deusa, mas pode ser por meio de uma desventura intimamente pessoal ou talvez como nossa melhor ventura. Quando, por exemplo, um professor muitíssimo estimado, aos setenta anos, abandona sua família e foge com uma jovem atriz ruiva, sabemos que aí os deuses fizeram mais uma vítima. É assim que o poder daemônico se revela para nós. Até não muito tempo atrás, teria sido fácil nos livrarmos da jovem mulher como sendo uma bruxa.

Por essa lógica, uma incapacidade de saber lidar com aquilo que está associado a um dado arquétipo deixa o indivíduo dominado por ele (esse é o modus operandi do trabalho de sombras, afinal), e basta que surja uma situação propícia para que esse domínio do arquétipo sobre o sujeito se manifeste em compulsões, obsessões e comportamentos irracionais. Para Jung, esse poder que os arquétipos exercem sobre as pessoas é o que os antigos identificavam como o poder dos deuses. Isso fica evidente no ensaio escrito por Jung em 1936 sobre o fenômeno do hitlerismo, intitulado “Wotan”:
Uma mente que é infantil ainda pensa nos deuses como entidades metafísicas dotados de uma existência própria ou então os enxerga como invenções brincalhonas ou supersticiosas. De ambos os pontos de vista, um paralelo entre o redivivo de Wotan e a tempestade social, política e psíquica que abala a Alemanha pode, pelo menos, ter o valor de uma parábola. Mas, como os deuses são, sem dúvida, personificações de forças psíquicas, afirmar sua existência metafísica é uma presunção intelectual, tanto quanto a opinião de que seria possível um dia inventá-los.
O argumento geral desse ensaio é o de que a Alemanha inteira do período estava como que possuída pelo poder de um arquétipo que se acreditava dormente e que Jung identifica como as forças que, para os antigos germânicos, seriam representadas pelo deus Wotan. Quem leu ou assistiu à série Deuses Americanos, do Neil Gaiman, vai reconhecer que o germânico Wotan é mais ou menos a mesma coisa que o nórdico Odin, que é o seu nome mais conhecido. Há diferenças marcantes aí, no entanto: Odin é o sábio pai dos deuses, ao passo que Wotan é uma figura mais perigosa, mais voraz, ligado à caçada, “o viajante inquieto que causa inquietação e suscita problemas”. De fato, Jung o compara com Dioniso, o deus grego do vinho que era acompanhado por uma procissão de mênades, mulheres embriagadas e possuídas pelo poder do deus, que em seu furor destruíam qualquer pessoa ou animal que passasse à sua frente com as próprias mãos – um destino que acomete o rei Penteu, na tragédia As Bacantes, de Eurípedes. A diferença, diz Jung, é que Dioniso exercia seu poder sobre mulheres, enquanto os receptáculos de Wotan eram os berserkers, que ele equivale aos fascistas camisas-negras dos reis míticos.
Tem muita coisa que se pode elaborar a partir das considerações de Jung. Não é porque ele considera os deuses personificações de forças psíquicas que eles perdem seu poder, especialmente no que diz respeito ao seu aspecto destrutivo. Parece-me muito claro que Jung tem uma concepção dos deuses bastante marcada pela literatura grega, que conceitualiza um mundo do ser humano à mercê de forças selvagens, primitivas e terríveis. Em alguns momentos, “arquétipo” e “deus” parecem ser igualados:
A Alemanha é uma terra de catástrofes espirituais, onde a natureza jamais oferece mais do que um verniz de paz com a razão que governa o mundo. O perturbador da paz é um vento que sopra na Europa vindo da vastidão da Ásia (…) quem desperta essa tempestade se chama Wotan, e podemos aprender muito sobre ele a partir da confusão política e tumultos espirituais que ele já causou ao longo da história. Para uma investigação mais exata de seu caráter, porém, devemos retornar à era dos mitos, que não explicavam tudo em termos do homem e suas capacidades limitadas, mas buscava a causa mais profunda na psique e seus poderes autônomos. As primeiras intuições do homem personificaram esses poderes como deuses e os descreveram nos mitos com grande cuidado e digressão, de acordo com seu caráter variado. (…) Porque o comportamento de uma raça assume o seu caráter específico a partir de suas imagens subjacentes, podemos falar em termos de um arquétipo “Wotan”. Enquanto fator psíquico autônomo, Wotan produz efeitos na vida coletiva de um povo e revela, assim, sua própria natureza. Pois Wotan tem uma biologia peculiar que lhe é própria, bastante apartada da natureza do homem. É apenas de tempos em tempos que os indivíduos caem sob a influência irresistível desse fator inconsciente.
É um tanto estranho ler a expressão “arquétipo Wotan”, considerando que estamos acostumados a entender o arquétipo como algo mais amplo, aquilo que seria o que está “por trás” de um deus. O Dr. Ritske Rensma explica isso neste ensaio recorrendo à história do desenvolvimento do pensamento junguiano: no momento em que ele escreve o ensaio, Jung entenderia Wotan como um arquétipo de fato, mas depois seria mais adequado falar nele em termos de “uma imagem arquetípica”, subjugada ao arquétipo mais amplo da sombra. Em todo caso, o mecanismo pelo qual Wotan teria exercido a sua “influência irresistível” sobre o povo alemão e o levado à barbárie do Terceiro Reich, acompanha as linhas gerais do que diz Jung no ensaio sobre arquétipos:
Há tantos arquétipos quanto há situações típicas na vida. A repetição infinita grava essas experiências em nossa constituição psíquica, não apenas na forma de imagens preenchidas por conteúdo, mas a princípio apenas como formas sem conteúdo, representando meramente a possibilidade de um certo tipo de percepção e ação. Quando uma situação ocorre que corresponde a um dado arquétipo, aquele arquétipo se torna ativado e uma compulsão aparece, a qual, assim como uma pulsão instintiva, abre caminho contra toda razão e vontade, ou então produz um conflito de dimensões patológicas, isto é, uma neurose (p. 48).
Destaco aqui a frase “aquele arquétipo se torna ativado”. Então, sim, olha só, existe uma menção à “ativação de arquétipos” na obra de Jung… só não do jeito que se imagina. Aqui “ativado” está traduzindo “activated” no inglês, e eu imagino que o termo em alemão seja cognato, mas não tive acesso ao original. Em todo caso, é marcante que a ativação de um arquétipo é uma coisa terrível em Jung. Num outro trecho, ele diz que, quando um arquétipo é ativado, as forças “explosivas e perigosa ocultas no arquétipo entram em ação, frequentemente com consequências imprevisíveis. Não existe delírio do qual as pessoas sob a dominação de um arquétipo não são vítimas” (p. 47).
De novo, enfatizo a comparação com uma possessão. Para a teoria junguiana, a Alemanha estava enfeitiçada pela força desse arquétipo… e isso também faz sentido quando pensamos no que vimos em nosso texto anterior. Um indivíduo comum é um ser complexo, com uma profundidade emocional e uma vida interior que os grandes romances realistas buscam emular em seus personagens principais. Ser tomado por um arquétipo é ter essa complexidade aniquilada e substituída por uma característica única e avassaladora que compõe a imagem arquetípica. E, embora a ideia de Jung possa ser polêmica (há muitas causas por trás do nazismo enquanto fenômeno), não dá para dizer que a gente não viu algo parecido com o bolsonarismo. Quantas pessoas a gente não conhece na vida real que tiveram sua subjetividade e racionalidade completamente tratoradas pela veneração ao… “mito”?
Como saímos de uma teoria de arquétipos sistematizada por Jung e chegamos a vídeos no TikTok que ensinam a “ativar arquétipos” para fazer amigos e influenciar pessoas… isso é um mistério. Mas é aquilo, né, entre Jung e os junguianos há um abismo, e o trabalho de figuras como Campbell e Hillman serviu para popularizar, mas também diluir a teoria, como já vimos quando falamos sobre shadow-work. Quando se soma a isso a popularidade que esse junguianismo freestyle tem no meio esotérico, não é surpreendente que uma prática como essa tenha emergido, mas não tem como não achar um pouco de graça com a completa subversão daquilo que está, de fato, escrito na obra do homem.
Por fim, na nossa próxima postagem, que conclui esta série sobre arquétipos, vamos enfim mergulhar na parte mais esotérica da discussão propriamente, para tratarmos de fato de práticas e literatura mágica. Existe um modo de praticar algo nessa linha que seja saudável e não destrutivo? Tem algo aí nisso tudo que se salve? Na semana que vem descobriremos!