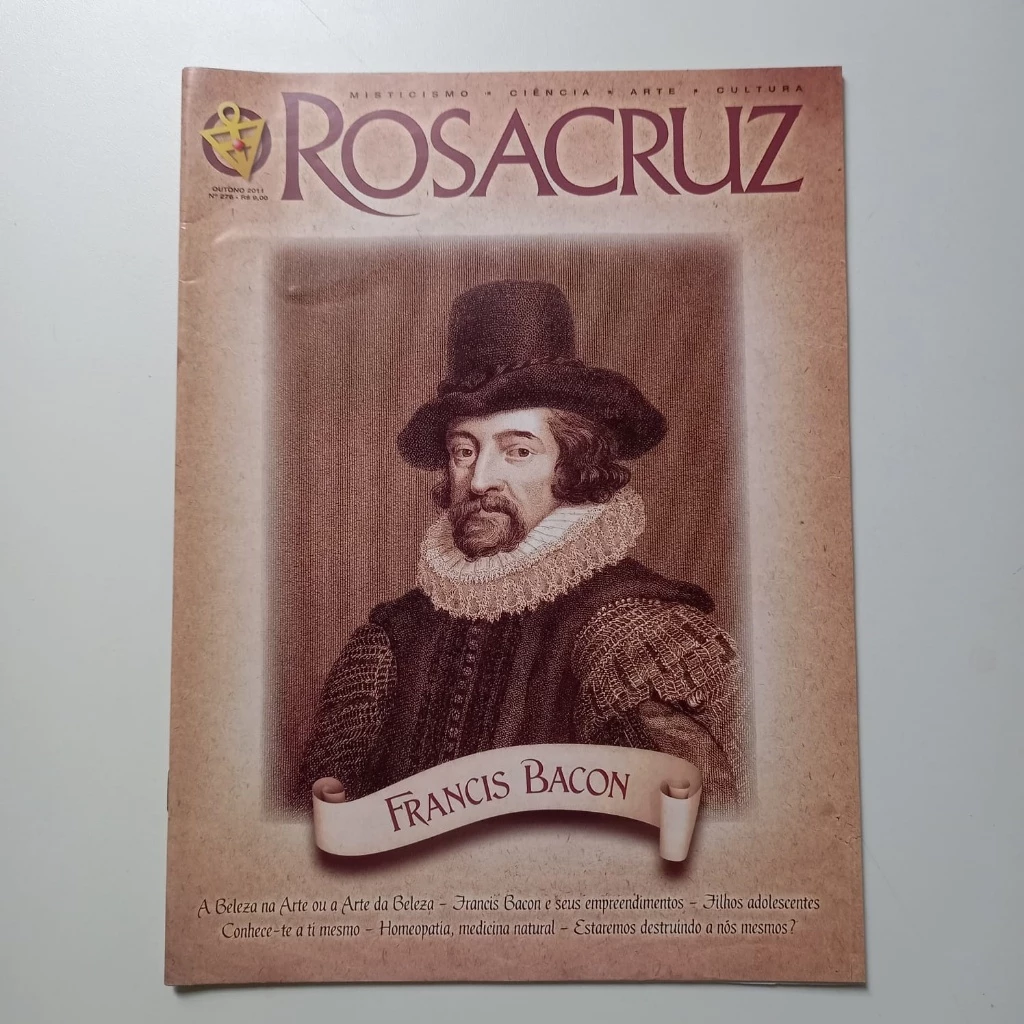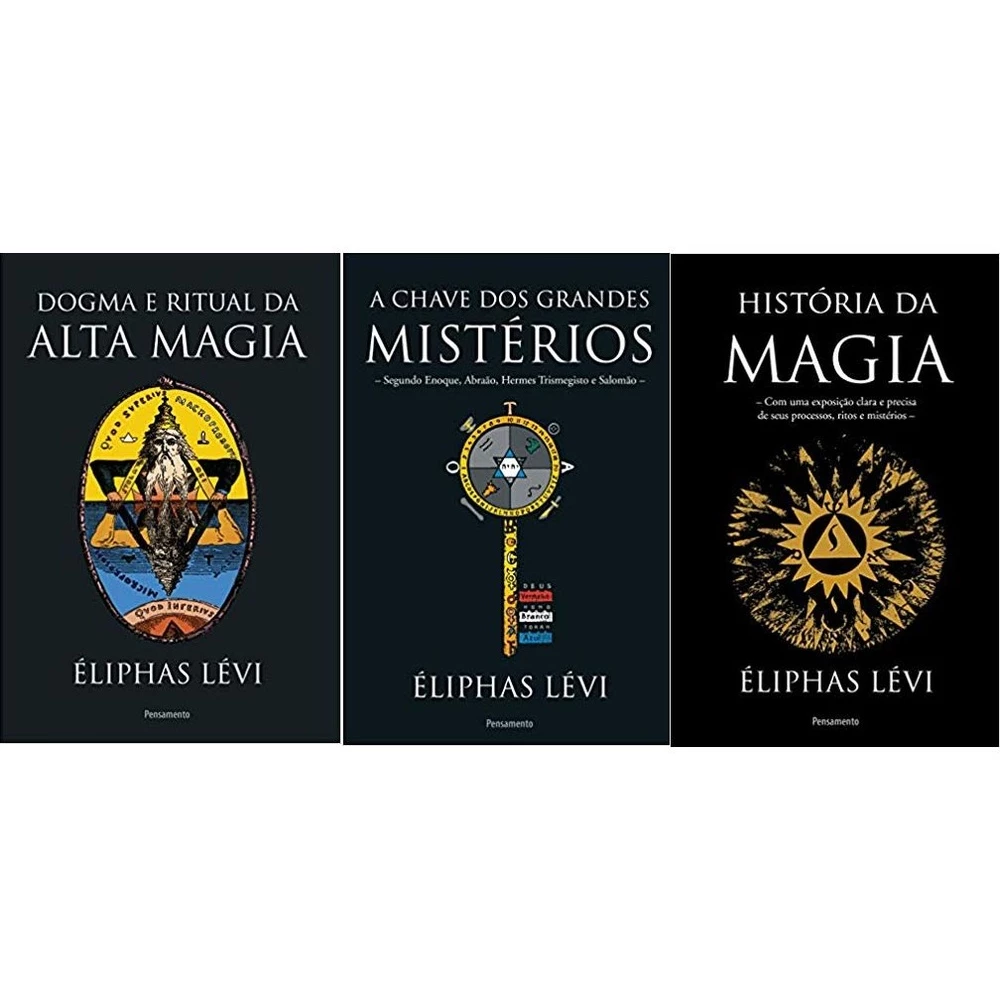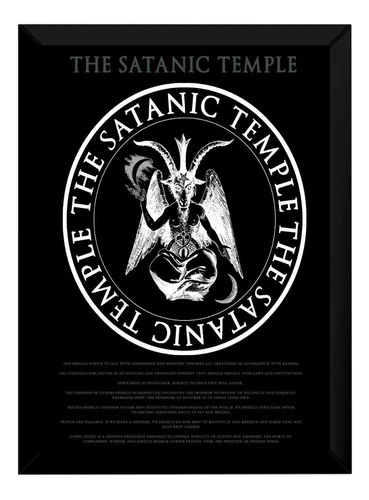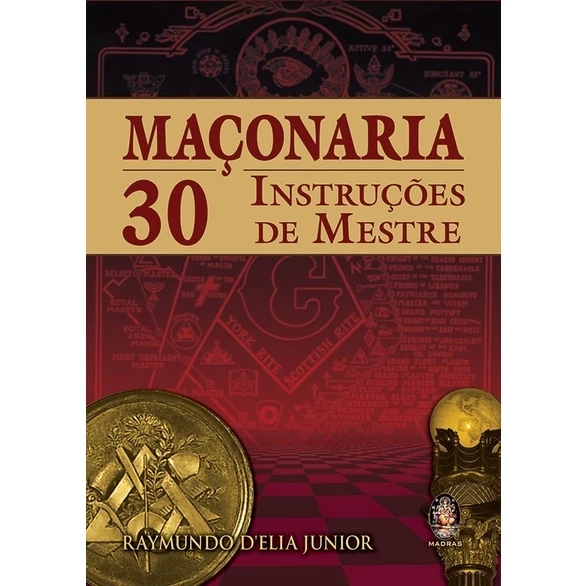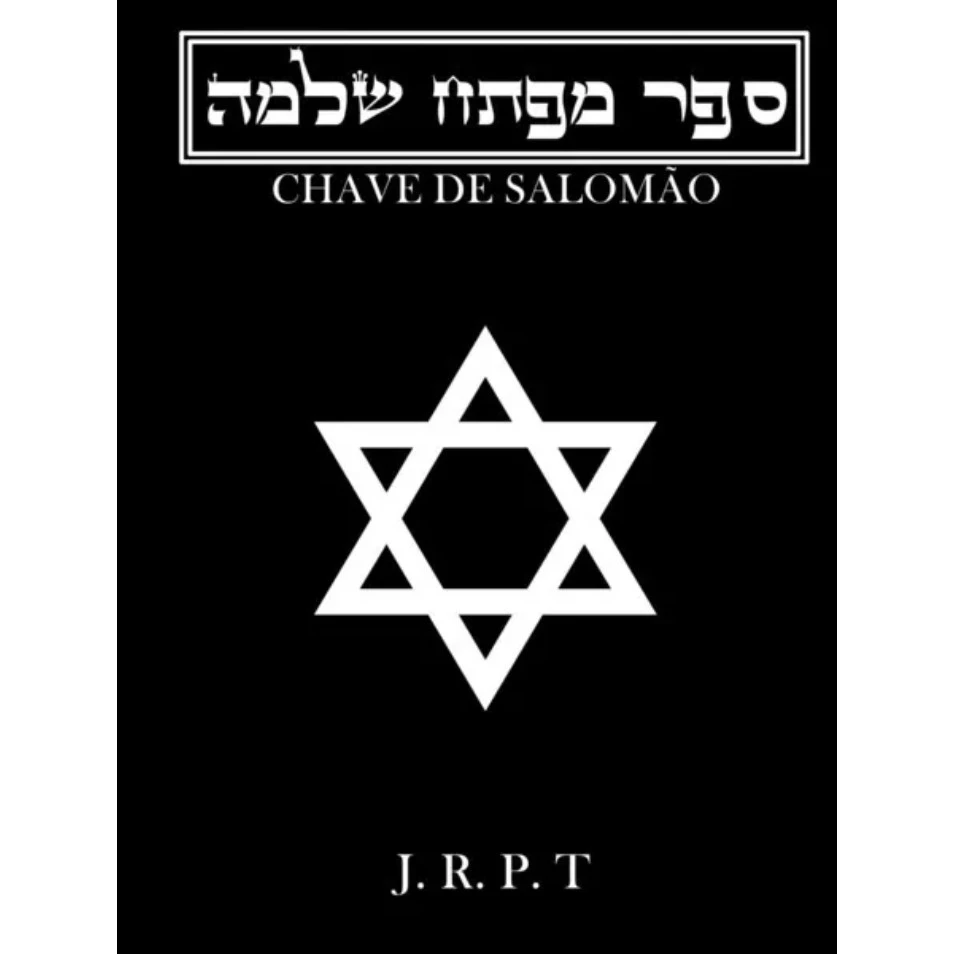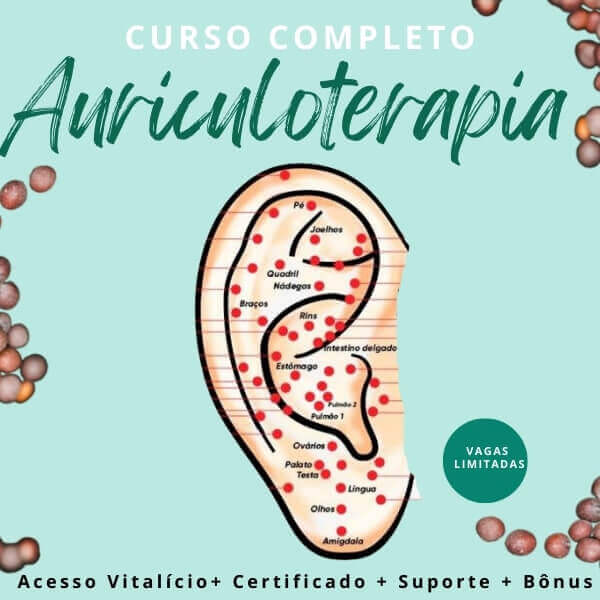Alguns amigos já me pediram para escrever sobre questões de magia e literatura (minha área de formação, afinal) e, bem, o tema que eu vou abordar hoje já me veio à tona em alguns momentos antes e imagino que possa interessar mais pessoas, tanto praticantes de magia quanto curiosos. A experiência de escrever este texto é um pouco esquizoide para mim (pensando na etimologia da palavra, de skízho, “cortar”, “dividir”), porque eu estou aqui partindo da perspectiva tanto de um magista quanto de um pesquisador de estudos literários, e o resultado não é uma coisa nem outra, mas vamos lá.
Antes de mais nada, queria só deixar registrado que este texto não se pretende uma reclamação do tipo “físico reclamando de Star Wars, porque som não se propaga no espaço”. Pelo contrário, aliás, temos muitos casos em que o mito e a magia se alimentam mutuamente, desde a história do sábio mesopotâmico Adapa, que teria quebrado a asa do vento com um feitiço e era invocado em exorcismos, até o lendário rei Salomão, com toda a tradição que descende dele, e até mesmo Fausto e os grimórios faústicos do século XVIII (dizem que Goethe tinha um na sua biblioteca, aliás). O que eu pretendo fazer aqui é partir de uma reflexão sobre as várias possibilidades para representação da magia, que é a parte que pode ser interessante para autores de ficção, e aí tratarmos de um outro problema mais urgente para magistas e praticantes de disciplinas espirituais no geral.
Quem é da teoria literária ou da semiótica provavelmente conhece já o nome do linguista búlgaro Tzvetan Todorov. Todorov é o autor de um livro bastante influente no meio, chamado Introdução à Literatura Fantástica, de 1970, onde ele apresenta a forma como ele entende o “fantástico”. O conceito do fantástico, como define o autor, é distinto de fantasia, que é o termo comercialmente aplicado a obras em que os elementos imaginativos são mais explícitos como a de Tolkien, C. S. Lewis ou George R. R. Martin, autores para quem a construção de um mundo alternativo (o chamado worldbuilding) é um aspecto importante. O fantástico, em vez disso, é o território das tensões entre as expectativas de conformidade da realidade comum — o que significa, desde o século XIX, o mundo desencantado, sem magia e sem espíritos, milagres, fadas ou deuses — e a irrupção do que é aparentemente sobrenatural.
Para ilustrar com um exemplo, uma boa aproximação seria o começo de qualquer filme de terror sobrenatural ambientado nos dias de hoje, em que o personagem principal se depara com acontecimentos estranhos, mas, sendo uma cria saudável do mundo moderno, age com ceticismo e racionaliza a coisa como pode, com frequência tratando tudo como meras coincidências, charlatanismo ou fenômenos psíquicos: sonho, delírio, alucinação, histeria coletiva. Mas esse ceticismo inicial acaba cedendo uma hora e o personagem passa a habitar esse espaço de hesitação entre realidades: as pressuposições anteriores que ele tinha sobre o mundo são postas em xeque. Acontecem coisas que ele achava que não eram possíveis, que não deviam ser possíveis, mas ninguém aceita um novo desenho da realidade de pronto, sem algum conflito interno (“eu devo estar ficando louco”, “o que que puseram na minha bebida?”). Por isso, a hesitação (essa é a palavra-chave aqui). O gênero do fantástico, segundo Todorov, é o que explora esse momento até o ponto em que o personagem, o narrador e os leitores são levados a ter que decidir entre duas resoluções (excluindo-se a possibilidade da leitura alegórica/poética): o aceite do sobrenatural (o que Todorov chama de “o maravilhoso”), tipo “é, é isso, essas coisas existem, vamos ter que lidar com esse fato e adaptar nossa visão do mundo a ele” e a solução mundana (“o insólito”), como costuma ser o final dos episódios de Scooby-Doo, quando você descobre que não tinha fantasma nenhum, só um velho ganancioso com uma fantasia e uns truques mecânicos.

Cena do filme A Dark Song.
Esse conceito é relevante para quem tem interesse na magia, porque descreve bem a situação em que muitos praticantes modernos se veem no começo da jornada. Você consulta um tarólogo, por exemplo, a tiragem reflete exatamente o seu momento de vida e as previsões se concretizam, mas você pensa, “ah, são só truques de linguagem, pareidolia, cold reading, nada a ver isso, se tirasse qualquer outro conjunto de cartas o resultado seria o mesmo, é só o tarólogo que é realmente muito bom com pessoas”. Normal, é difícil para quem se criou na base do materialismo aceitar que a geração de sequências aleatórias (de cartas, runas, moedas, palitinhos) possa produzir uma mensagem para você que faça sentido. Ou então você faz um ritual para qualquer coisa, o resultado se manifesta dentro do prazo, mas você pensa, “ah é só coincidência, viés de confirmação, efeito placebo”. Afinal, o tempo só vai para frente, e não tem como voltar e testar para ver como se desdobrariam as coisas se você não tivesse feito o ritual, por isso sempre vai parecer coincidência. E por aí vai.
A questão é que, se você conseguir manter uma postura de abertura e receptividade, vai perceber que, mesmo que pudesse ser placebo (não é, mas vamos fingir), considerando que manter uma rotina de práticas mágicas é divertido (eu acho, pelo menos) e não custa muito tempo nem dinheiro, vale a pena insistir. Fazer um ritual para manifestar um emprego, por exemplo, pode parecer um comportamento irracional, mas, se ele demora menos de uma hora, o tempo de assistir a um episódio de um seriado, custa pouco (uma vela e um incenso) e faz bem, seu efeito ou não sobre as probabilidades pode até mesmo ser visto como um subproduto, apenas. Logo, trata-se de uma ação perfeitamente racional, tanto quanto a prática de qualquer hobby ou relaxamento. E, se você insistir nessa perspectiva e continuar se aplicando e se desenvolvendo, você vai ver que as dúvidas logo cessam e você se torna capaz de fazer o salto de fé. Não me entendam errado: as práticas mágicas e espirituais não são um hobby, mas tratá-los como tal num primeiro estágio, para quem tem muita dificuldade em racionalizar a coisa, pode ser uma estratégia. Até sair desse estado de dúvida vai meses ou mesmo anos vivendo essa tensão do fantástico.
Eu parto dessa reflexão, com base em Todorov, para agora tratarmos de uma outra questão que eu acho interessante como praticante de magia e estudioso da ficção: as possibilidades da representação ficcional da magia. Esse tema tem a ver com o que viemos falando até o momento na medida em que essas representações, por mais que a gente saiba que a realidade e a ficção são coisas distintas, acabam por moldar nossas expectativas. Após a surpresa de que, sim, a magia é real, muitas vezes vem junto o balde d’água fria de que, não, você provavelmente não vai conseguir atirar uma bola de fogo nesta vida.
Alan Chapman diz o seguinte em Advanced Magick for Beginners:
Ser um magista significa conseguir concretizar os seus desejos.
O que você é capaz de vivenciar pela magia é limitado apenas por sua imaginação.
Como você vivencia um resultado mágico é limitado apenas pelos meios disponíveis de manifestação.
Sim, dá para usar magia para obter dinheiro, sexo e poder; como tais, essas coisas ocorrerão assim como qualquer outro evento “real”, na forma de uma sincronicidade. Por exemplo, se você fizer magia para ganhar dinheiro, no dia seguinte você pode visitar uma corrida de cavalo, apostar uma grana e ganhar. Mas, se você fizer magia para “voar como o Super-homem”, sem dúvida você vai vivenciar o resultado em sonhos, porque esse é o meio disponível através do qual o resultado pode se manifestar. (…)
Sem dúvida alguns novatos na magia ficarão decepcionados em aprender que a magia não vai permitir que você cresça mais dez centímetros (erm, em altura), conceder a habilidade de atravessar paredes ou transformar outras pessoas em sapos.
É isso. Em Harry Potter, um feitiço para matar alguém como o infame A Vara Ker Raba Avadra Kedavra se manifesta como um raio que sai da varinha, mirado no alvo, que o acerta e já era. Na vida real, o que acontece é que o ritual é feito e, se der certo, a vítima pouco tempo depois vai adoecer, enfartar, ter um derrame ou sofrer um acidente ou atentado em condições misteriosas — como aconteceu com o primeiro ministro israelense Yitzhak Rabin, que foi alvo da maldição cabalística Pulsa diNura um mês antes de ele ser assassinado, ou Ariel Sharon[1]. Na vida real — ou melhor dizendo, no plano material — , não vai ter fogos de artifício ou efeitos especiais[2], do mesmo modo como a evocação de um demônio não significa que ele vai aparecer em carne e osso na sua frente como num jogo de RPG.
Quatro tipos de formas de lidar com o sobrenatural (incluindo a magia)
Das obras de ficção, um filme que merece elogios pela forma de lidar com o “sobrenatural” é o irlandês A Dark Song, de 2016, dirigido por Liam Gavin. Para quem não viu o filme, o enredo gira em torno da protagonista Sophia que contrata os serviços do ocultista Joseph Solomon para instrui-la na realização do famoso ritual de Abramelin — uma operação, registrada no grimório que leva esse nome, que permite, após vários meses de isolamento, preces e rituais, obter contato com o Sagrado Anjo Guardião (eu já falei sobre isso no meu texto sobre os PGM). Há umas liberdades artísticas, claro — o filme trata o contato com o SAG meio que do mesmo jeito que a evocação do Sheng Long de Dragonball, como um trabalho longo para poder pedir um desejo no final, sendo que não é nada disso. Mas tudo bem, faz parte. Quanto ao tratamento do sobrenatural, A Dark Song é um belo caso por lidar com a magia como um efeito sutil, que opera, na maior parte do tempo, naquele espaço confuso do “isso está acontecendo mesmo ou é pira da cabeça do personagem?”. Não vou dar spoilers, mas, quando a personagem precisa lidar com presenças malignas, apesar de elas serem representadas como reais, por ela estar sozinha nesses momentos é perfeitamente possível compreender que o filme as representa a partir da sua perspectiva e não como fatos incontornáveis do mundo físico.
O oposto desse tipo de tratamento é o que observamos em Harry Potter. Em toda a série, a magia é uma coisa muito pouco sutil e misteriosa, sendo representada, na verdade, como um substituto, mais poderoso, da tecnologia material. Há algumas regras biológicas (o conceito de “sangue bruxo”) e técnicas (o uso da varinha, a recitação correta das fórmulas), mas praticamente não tem limite para o que a magia pode fazer no que diz respeito a violar as leis do mundo físico… transformações corporais, invisibilidade, fazer coisas levitarem e voarem, etc. E tudo isso como fatos objetivos. Se alguém chega para a turma de Harry Potter, diz “hoje vamos aprender um feitiço para voar” e ensina alguma coisa para sonhar que está voando, os alunos (e os espectadores) vão se sentir tapeados. E o fato de a magia operar segundo regras bastante mundanas, apesar de seus efeitos maravilhosos, permite que ela seja usada para tarefas extremamente banais, como quem usa um micro-ondas ou um celular (ou uma privada). O mesmo vale para os sistemas de magia de RPGs, como Dungeons and Dragons ou Mago: a Ascensão.

Sinto muito, não vai rolar.
Assim, é possível começar a traçar um contínuo de possibilidades de representação da magia, partindo do mais sutil, portanto próximo do ocultismo real, para o mais explícito. Mas essa sistematização ainda é muito simples e não contempla a grande maioria das possibilidades ficcionais. Para isso, precisamos acrescentar mais um eixo. O que tanto o ocultismo real quanto a magia de Harry Potter e D&D têm em comum é que operam por meios técnicos, com base em regras. O mago não pode simplesmente fazer o que quiser, ele precisa respeitar certos termos, sejam eles as fases da lua ou o número de magias por dia que um mago do seu nível pode lançar. Como A Dark Song demonstra, o ritual não pode ser feito de qualquer jeito, há um método que é importante seguir e problemas técnicos exigem soluções técnicas.
Uma outra categoria literária é a magia como mecanismo alegórico do enredo (plot device) sem maiores preocupações quanto a sistematizá-la. Nessa categoria se encaixam personagens como o feiticeiro Archimago do épico inglês The Faerie Queene (1590–1596), de Edmund Spenser, ou o mago Atlante, em Orlando Furioso (1532), de Ariosto. Ambos os feiticeiros têm em comum a capacidade de conjurar ilusões como uma forma de tentação para os heroicos cavaleiros que são os protagonistas dos dois poemas. As regras que governam os limites dos poderes desses magos não são tão relevantes para esses poetas quanto o que eles simbolizam — no caso, suas ilusões são alegóricas de todo tipo de tentação, especialmente de natureza religiosa, como “desvios” da “fé verdadeira”: Archimago, como alegoria da Igreja Católica, pretende apartar o cavaleiro Red Crosse (que representa Inglaterra) de sua amada Una (a Verdade) e assim arruiná-lo, e Atlante quer evitar que Ruggiero se converta ao cristianismo. Não é tão interessante ao autor que a vitória sobre esses magos se dê em termos de tecnicalidades, como acontece, por exemplo, com Voldemort. As circunstâncias nas quais o vilão de Harry Potter é derrotado são complicadas demais para se resumir aqui, mas envolvem uns quiprocós com varinhas e horcruxes e um feitiço que literalmente se volta contra o feiticeiro por conta dessas complicações.
Esse tipo de representação de poderes sobrenaturais como se vê em Harry Potter é o padrão nas obras de ficção de entretenimento modernas (de livros a quadrinhos, filmes e até mesmo animes), porque criam redes complexas de acontecimentos simultâneos que são extremamente interessantes de acompanhar, pensando “como é que os heróis vão se safar dessa agora?”. Esse tipo de narrativa apela para o nosso gosto em sermos surpreendidos, como em truques de ilusionismo, porque parte da graça está em ver o autor demonstrando sua sagacidade em orquestrar os eventos de maneira inesperada (daí o ódio do público por spoilers, o que é um fenômeno muito recente). De quebra, também rende discussões divertidas que os nerds adoram, como “quem ganharia numa briga, o Super-homem ou o Goku?”. Ter esse tipo de expectativa ao ler obras mais antigas — esse tipo de enredo surge no século XIX — pode ser frustrante para leitores modernos.
Em Homero também temos o episódio de Circe, a feiticeira que transforma homens em porcos com sua poção mágica, mas Odisseu é salvo por um deus ex machina, conforme Hermes aparece e simplesmente lhe dá a erva moli que é o antídoto para sua poção. Naturalmente, esse tipo de representação da magia não é muito popular na literatura de fantasia, porque acaba com toda tensão dramática e tende mais ao poético e alegórico.
Por fim, o último quadrante de nosso gráfico é ocupado pelos exemplos de magia que é igualmente despreocupada com regras técnicas, mas tende à sutileza, sem violações das leis do mundo físico. O grande exemplo que eu consigo pensar agora desse tipo de representação mágica é o pacto diabólico firmado por Riobaldo em Grande Sertão: Veredas. Riobaldo deseja o poder para finalmente conseguir matar o vilão Hermógenes, o objeto dos desejos de vingança de seu amado Diadorim. Para isso, ele se dirige ao diabo no meio da noite nas Veredas-Mortas para uma conjuração informal, por assim dizer — não há ferramentas e fórmulas complexas, apenas o chamado por Satanás e a expressão do desejo. E, spoiler: Riobaldo consegue o que deseja, mas a um preço alto, que é a morte de Diadorim. Guimarães Rosa, magistralmente, nunca deixa claro se o pacto foi real ou não, e o próprio personagem convive o resto do romance com a dúvida. Não há preocupações com regras e tecnicalidades — se ocupar com isso, inclusive, com detalhes do tipo, “ah claro que deu ruim, ele não usou um círculo de proteção!”, seria tacanho. Não é esse o ponto principal, do mesmo modo como Hamlet também não é um livro espírita, e assim por diante. Assim como as representações mais realistas de ocultismo, esse tipo de representação da magia opera pela sutileza, mas sem uma preocupação com regras ou sistematização do sobrenatural.
A literatura mais “séria”, por assim dizer, mais canônica, de certo modo herdou muito das aspirações da tragédia, que era o gênero mais nobre do teatro grego. Como comenta George Steiner, o grande xis da questão da tragédia é um problema cósmico, o lugar do ser humano no universo. Os protagonistas das tragédias se veem diante de problemas sem solução e, ao optarem por tentar fazer o que seria certo (a tragédia nunca é um gênero de retribuição moral), acabam caindo em desgraça. Édipo queria salvar seu reino das pragas que chovem sobre Tebas pelo fato de a cidade abrigar um criminoso que matou o pai e dormiu com a mãe, a desgraça sendo ele descobrir que essa pessoa, por acaso, é ele mesmo; Antígona precisa decidir entre obedecer às leis cívicas ou divinas no tocante a enterrar seu irmão; Orestes decide matar sua mãe para vingar seu pai, mas isso viola um dos maiores tabus gregos que é derramar o sangue de um familiar; Hamlet precisa também vingar seu pai, matando seu tio, mas seu ceticismo, por mais que saudável, o leva a uma paralisia que culmina na morte de todo mundo. Em todos os casos, o conflito não tem uma resolução fácil e o desastre não pode ser evitado “por relações econômicas mais saudáveis ou melhorias no encanamento”. Há um elemento trágico também em Grande Sertão: Veredas (apesar de, como ocorre com o romance moderno, o livro apresentar uma grande mescla de gêneros), mas pressupor que o preço alto do pacto poderia ter sido evitado com um aprimoramento de técnicas mágicas é uma leitura que estraga a obra.
Voltaremos a essa questão sobre o problema da técnica logo mais.
Fazendo uma representação visual dessas quatro abordagens, enfim, chegaríamos à seguinte imagem:

Os tipos 1 e 3 de representação do sobrenatural e do mágico têm em comum o fato de que a magia opera pela sutileza e poderia ser racionalizada como coincidência ou pela perspectiva enviesada da consciência alterada do personagem. Os tipos 1 e 2 têm em comum a ênfase técnica. Os tipos 2 e 4 partilham do fato de que os efeitos da magia neles são factuais, explícitos, incontornáveis e não há limites para o que a magia pode fazer. E os tipos 3 e 4 são marcados pelo desinteresse nos aspectos técnicos, com o sobrenatural sendo utilizado muito pontualmente ou de forma simbólica/alegórica.
Quando pensamos por uma perspectiva histórica, porém, podemos reduzir os tipos principais ao 1 e 4, por serem os mais antigos. O tipo 1 descreve as práticas mágicas de verdade, que são atemporais, enquanto o tipo 4 abrange a magia como vista nos mitos, igualmente atemporais, em que as preocupações com o realismo são deixadas de lado. O tipo 3 é nada mais que uma aplicação do tipo 1 sem a ênfase técnica, como é a apropriação do mágico pela cultura mais popular, enquanto o tipo 2 é o mais recente, surgindo, até onde eu tenho notícia, com o romance moderno e refletindo uma fé no poder da técnica que estava muito em voga durante todo o período e só foi ser posta em xeque com a Primeira Guerra.
Técnica e desencantamento
Imagino que essas considerações possam ser úteis para os meus leitores que escrevem ficção e que têm curiosidade sobre o assunto da magia (e eu sei que eu tenho alguns amigos e seguidores do Twitter que se encaixam nesse território). Para os praticantes, porém, especialmente os mais experientes, o ponto a que eu pretendo chegar é outro ainda.
Como dito ao tratar da tragédia, a redução dos grandes conflitos cósmicos a soluções técnicas é um problema. Se alguém se enxerga como um personagem trágico, atormentado por questões insolúveis que são a culminação de vários problemas maiores da sua família, nação, etc., e alguém lhe diz “vai num terreiro e toma uns banhos que resolve”, essa pessoa vai ficar muito contrariada. Tipo, como assim os meus dilemas existenciais que tiram meu sono, meu grande vazio interior, meus sofrimentos íntimos e descompasso com o universo, são apenas resultado de poluição energética e o equivalente astral de uma verminose? É um pensamento incômodo, mas, ao mesmo tempo, é provável que realmente ir no terreiro e tomar os banhos (ou outras medidas energéticas) de fato ajude. Nesse caso, precisamos lembrar que tragédias, como um gênero, são interessantes porque são extraordinárias. Não é todo mundo que é o Édipo — e que bom por isso, porque esse é um fardo pesado demais para qualquer um. Exagerar no senso de autoimportância e na dimensão dos próprios problemas (problemas de dimensão cósmica!) é uma demonstração de problemas, na verdade, com o próprio ego.
A questão é que, para quem mexe com magia, misticismo, ocultismo, esoterismo, espíritos, etc., o que é extraordinário para a pessoa comum se torna parte do seu cotidiano. Não é por acaso que os EUA do século XX tenham fornecido o contexto ideal para a emergência de filmes de terror sobrenatural: um país protestante, materialista e com sérios problemas de racismo e xenofobia com as tradições culturais de outros países (como se vê muito bem delineado na obra de Lovecraft) é uma vítima perfeita para o sobrenatural. Qualquer macumbeiro sabe que esses enredos de filme de terror se resolvem em 10 minutos numa gira. E, de novo, menciono também as histórias de exorcismo do Lon Milo Duquette em Low Magick e My Life With the Spirits, que, por mais que sejam anedotas interessantes, são relatos de eficácia técnica: havia um problema, ele foi chamado para resolver, aplicou as ferramentas mais apropriadas e, apesar de cansativo, tudo deu certo no final.

Diego Valades, A Grande Cadeia do Ser, em Rhetorica Christiana.
O mundo em que nós nascemos, como diz o sociólogo Max Weber, é desencantado, tendo já passado por processos de desencantamento desde a ascensão do protestantismo, mas tudo se tornou mais acelerado no século XIX. Esses processos incluem a secularização e o declínio da magia, acompanhados da ascensão, em escopo, escala e poder, do individualismo e da racionalidade da ciência, burocracia, direito e política — mas não é apenas a aplicação da razão em si e sim da razão instrumental, que nada mais é do que a procura pelo método mais eficiente de fazer as coisas e que, de pouco em pouco, conduz à irracionalidade que é típica do capitalismo, como jogar comida fora. O individualismo implica que, bom, você pode, em tese, fazer o que você quiser da sua vida que ninguém tem nada a ver com isso, mas também aparta o humano da “grande cadeia do Ser” que é típica da religião e do misticismo mais antigos. O mundo inteiro é esvaziado de sentido e nada, seguindo o verdadeiro ânimo iconoclasta protestante, é sagrado. Em tese, isso significa que o mundo, privado de valor inerente pode se tornar objeto da vontade de Deus, mas, na prática, significa apenas que tudo não passa de matéria-prima para os processos capitalistas. Tirar o valor do mundo material, no Ocidente, teve o resultado paradoxal de aprisionar a sociedade no materialismo. Nesse sentido, é difícil não observar afirmações como a de Carl Sagan, de que “somos poeira de estrelas” como tentativas, ainda de que de uma perspectiva materialista e precária, de reestabelecer a conexão entre o ser humano e o cosmo.
Nós contemplamos um relance do reencantamento do mundo ao termos contato com o espiritual e o mágico: uma leitura de tarô muito precisa, um sonho profético ou uma visão, uma experiência extática, a aparição de um espírito, um ritual que deu certo. Tudo isso causa maravilhamento, em parte porque aponta para a conexão fundamental da consciência humana com o todo, hermeticamente. Mas então você se aprofunda no tema e… dá de cara com listas e planilhas. O ocultismo real tem uma presença reduzidíssima na ficção, apesar de os autores com frequência utilizarem elementos estilísticos derivados dele, como a invocação de Mefistófeles, em latim, em Dr. Fausto, ou o uso de nomes divinos retirados de grimórios em Lovecraft, mas é apenas o caso de um verniz que serve para conferir uma aparência real à coisa toda. Eu não tenho dúvidas de que o motivo para essa presença reduzida é o fato de que o ocultismo real, para quem não é do ramo, é muito chato. É necessário estudar demais, ler coisas abstrusas e usar do discernimento para entender o que é o espírito e o que é a letra da palavra em textos antigos. Não é interessante ler ou assistir a uma história de um mago que estude, faça tudo direitinho e as coisas aconteçam do jeito que ele quer ou precisa que aconteçam — a graça é quando dá ruim, quando ele faz merda e mexe com o que não devia. Esse é mais um abismo entre a ficção e a vida real.
Eu não quero dizer, no entanto, que devemos aceitar a ideia da magia como uma coisa fundamentalmente chata. As planilhas, tabelões e textos abstrusos são uma parte, certo, mas ela não se reduz a isso. Quando você conjura um anjo numa bola de cristal, você está chamando uma das forças mais elementares da Criação, uma inteligência inconcebivelmente antiga, de sabedoria insondável, cuja vontade está nada menos que alinhada à vontade de Deus, e ela atende ao seu chamado. Quando você canta um hino antigo a uma divindade pagã, você está repetindo palavras de milhares de anos, que vários sacerdotes repetiram por séculos para se conectar a essas forças muito maiores do que o ser humano e que nós até hoje não entendemos direito. Quando você faz um feitiço popular que você aprendeu com a sua vó, você está se inserindo numa cadeia de práticas ancestrais que se mantêm desde sabe-se lá quando. Não importa qual seja sua prática mágica, é importante não perder de vista a perspectiva do quanto essas coisas são incríveis e extraordinárias, por mais que possam não parecer tanto, por terem se tornado rotina.
E, claro, o passo seguinte é ser capaz de enxergar esse mesmo maravilhamento em tudo, do céu e das estrelas até o menor grão de areia: “To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower / Hold Infinity in the palm of your hand / And Eternity in an hour”, como diz William Blake. Mas aí já é assunto para outro momento.
* * *
[1] Curiosamente, dizem que a Pulsa diNura foi feita também para o político israelense Naftali Bennett, mas ele ainda está vivão.
[2] Ou, melhor dizendo, até tem. Mas esses fogos de artifício acontecem no plano astral. Quem tem a sensibilidade necessária para isso (de nascença ou como habilidade desenvolvida) pode confirmar. E mesmo com quem não tem essa capacidade às vezes acontece de poder ver de relance essa realidade, o que pode ser um tipo bastante perturbador de experiência.
[3] Este, é claro, é um resumo grotesco da questão. Quem quiser pode se aprofundar melhor lendo o próprio Weber, mas também a literatura secundária, como Charles Taylor (A ética da autenticidade) ou Richard Jenkins (“Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber at the Millennium”).